Em 2009, os debates sobre regulação da internet no plano nacional foram intensos no Brasil. Um projeto de lei sobre crimes cibernéticos, em debate desde 2003, foi amplamente contestado, resultando na abertura de uma consulta pública sobre uma proposta de Marco Civil para regulação da internet por parte do governo federal [2]. Este artigo examina esse percurso, resgatando antecedentes do debate sobre regulação da internet, identificando atores e forças relevantes, e analisando os momentos iniciais de discussão sobre a nova proposta de regulação. Além disso, explora conexões e disjunções entre esse debate e questões de gênero e sexualidade, como um primeiro resultado do estudo de caso brasileiro que compõe a pesquisa global EROTICS [3].
Usos da internet, gênero e sexualidade no Brasil
No Brasil, em março de 2009, 62,3 milhões de pessoas tinham acesso à internet, e o acesso à rede, em anos recentes, cresceu mais entre mulheres, adolescentes e crianças [4]. Registra-se ainda entre os/as brasileiros/as ampla adesão a plataformas de relacionamento social, especialmente o Orkut [5]. Assim como ocorre em outros países, a internet adquiriu um significado estrutural em termos de finanças, comércio, ciência e tecnologia, política e governança.
No campo da política sexual, desde os anos 1990, a rede se tornou um instrumento fundamental de ativismo e advocacy. No Brasil contemporâneo, as demandas por direitos das mulheres e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais (LGBT) que ganham visibilidade nos anos 1970 e 1980 constituem um traço marcante do processo de democratização do país, depois da ditadura militar (1964 – 1985). Atualmente, essas pautas estão mais bem desenvolvidas e contam com suportes legais e institucionais [6]. Entretanto, as demandas feministas e LGBT não foram completamente respondidas, e os direitos já assegurados, por lei ou jurisprudência, tampouco são facilmente exercidos na vida cotidiana. O aborto ainda é criminalizado no país (exceto nos casos de estupro e risco de vida para a mãe) e, desde 1995, está paralisado no Congresso um projeto de lei para garantir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, desde 2006, uma proposta de legislação para criminalizar a homofobia vem sendo debatida, mas não foi aprovada devido a uma forte reação contrária, articulada pelas forças religiosas conservadoras, em especial as religiões evangélicas.
Nesse contexto, a internet é instrumento crucial para comunicação, campanhas, denúncias e debates.
Por outro lado, é um espaço de trocas intensas entre pessoas e grupos, um canal de circulação de idéias, imagens, práticas e convicções, e um lugar onde grupos, comunidades, conexões e identidades são constantemente recriadas. Espaços online possibilitam encontros e trocas afetivo-sexuais (sexo causal, namoro, casamento), mas também acesso a sexo comercial, sexo performatizado, material pornográfico. A rede é locus privilegiado de gestação e propagação de discursos não hegemônicos sobre gênero e sexualidade, onde se articulam e negociam vários temas e práticas [7].
Essa característica alimenta o imaginário da internet como um lugar perigoso onde particularmente crianças e mulheres são vítimas potenciais ou presumidas de violência e abuso, politizando a internet por outros caminhos, ou seja, deflagrando propostas de regulação draconianas e medidas de criminalização. Os “usos sexuais cotidianos” da internet deflagram pânicos morais que podem ser manipulados para servir a outros fins e interesses que não a proteção de grupos e pessoas potencialmente vulneráveis a abusos na rede. Como veremos, esse tipo de injunção esteve em jogo nos debates recentes sobre regulação da internet no Brasil.
O debate sobre regulação: antecedentes e forças em jogo
O debate sobre regulação da internet no Brasil se iniciou nos anos 1990, ao redor da necessidade de administrar o uso do “.br” e outros domínios, e um pouco mais tarde quando se identificaram os primeiros problemas de vulnerabilidade da rede: fraudes bancárias, pirataria musical, manifestações de ódio racial e redes de pedofilia. Em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet (CGI.br) que ganharia, em 2003, autonomia institucional plena como instância de governança da internet no país. Compõem seu conselho representantes do governo federal, dos provedores, da academia e da sociedade civil. Embora o mandato principal do CGI.br seja o gerenciamento de domínios “.br”, sua missão mais ampla comporta, potencialmente, uma função reguladora no plano do conteúdo.
A partir de 1999, seriam apresentados inúmeros projetos de lei para coibir crimes cibernéticos. Entre eles o PL 84/1999, que tramitou na Câmara antes de seguir para o Senado Federal com o número PLC 89, em 2003, onde foi tratado em conjunto com os projetos de lei do Senado 137/2000 e 76/2000 num parecer preparado pelo senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) [8]. A proposta ficou conhecida como “Lei Azeredo” e aprofunda o conteúdo vigilantista dos textos originais, sobretudo no que se refere à exigência de cadastramento compulsório de usuários da internet e armazenamento de logs durante cinco anos pelos provedores, para fins de investigação. Embora tenha sido sistematicamente contestado, o texto foi aprovado no Senado em 2008 e devolvido à Câmara, onde continua em tramitação.
A questão da pirataria e de propriedade intelectual esteve presente no debate sobre esse projeto. Mas o que explica sua aprovação foi a pressão exercida pelo sistema bancário para que se adotasse uma lei dura para punir fraudes virtuais, que implicam perdas para os bancos. Embora em 2001 tenha sido adotado no Brasil um sistema muito seguro de certificação digital para operações financeiras, isso não coibiu a ação de crackers e a clonagem digital. Mas, como a lei obriga os bancos a ressarcirem automaticamente os/as clientes prejudicados/as por essas fraudes, esse não é um problema que afete diretamente as pessoas, mesmo quando os bancos afirmem que essas perdas são transferidas para os custos de operação bancária e juros. Assim, a proposta de punir severamente tais crimes não mobilizou facilmente apoio social ou mesmo no Congresso. Em busca de justificativas que tivessem maior apelo popular para legitimar a lei, seus defensores descobriram o veio fértil: o combate à pedofilia na internet.
A pornografia infantil na rede e seus múltiplos efeitos
A pornografia infantil foi definida como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. Desde 2004, o Brasil é signatário do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis. Já em 1999, o CGI.br discutiu o tema a partir da colaboração entre a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Polícia Federal para coibir a prática [9]. Em 2000, um grupo de advogados/a especialistas em internet, em parceria com uma organização de direitos das crianças, CEDECA-Bahia, criou um hotline para denúncias de pedofilia na rede. A questão assumiria novas proporções com a ampliação do acesso à rede nos anos 2000 e, sobretudo, a partir do Orkut.
Todavia, as redes de pornografia infantil se expandiram junto com a expansão do acesso à internet, na primeira década de 2000 e, particularmente, depois da criação do Orkut. Em 2005, o projeto do hotline se desdobraria na ONG SaferNet, que realizou uma pesquisa sistemática sobre pornografia infantil, crimes raciais, venda de drogas e apologia ao nazismo no Orkut. Em 2006, a SaferNet protocolou uma representação civil contra a Google no Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) [10], baseada no relatório da pesquisa, na qual mais de 90% das denúncias identificadas eram relativas à pedofilia infantil no Orkut. Instalou-se, então, uma investigação criminal e o escritório brasileiro da Google foi notificado. Mas a empresa impôs recursos jurídicos sistemáticos à investigação, alegando que os logs estavam armazenados nos EUA. Entre 2006 e 2007, o presidente da Google no Brasil recebeu várias intimações dos órgãos competentes. A SaferNet realizou campanha junto às empresas anunciantes da Google, alertando para o fato de que os anúncios poderiam estar aparecendo em páginas com conteúdo de pornografia infantil, por meio dos mecanismos de busca, na intenção de mobilizar as empresas anunciantes a questionarem a Google a esse respeito. O caso ganhou visibilidade na mídia nacional e internacional. Finalmente, em julho de 2008, a empresa se dispôs a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPF-SP e a SaferNet [11].
Ao assinar o TAC, a Google se comprometeu a: receber notificações judiciais e extrajudiciais sobre pornografia infantil e discursos de ódio [12] relativas ao Orkut; atender a todas as ordens judiciais existindo condições técnicas para isso; guardar todos os dados de acesso e tráfico de dados dos/as usuários/as automaticamente por 180 dias e disponibilizá-los mediante ordem judicial; comunicar ao MPF todas as ocorrências de pedofilia em território brasileiro reportadas ao National Center for Missing and Exploited Children, assim como as violações ao ECA e demais crimes; remover conteúdos; lançar um centro de segurança na internet para usuários/as do Orkut; enviar relatórios bimestrais ao MPF com dados sobre comunidades e perfis de usuários/as; entre outras medidas.
Esse conjunto de fatos mobilizaria também a criação, em março de 2008, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional, requerida pelo senador Magno Malta (PR-ES). A CPI conta com uma assessoria técnica, na qual participam o diretor da SaferNet e membros do MPF, que elaborou vários projetos de lei para coibir e criminalizar a pornografia infantil na rede. Entre eles o PL 3.773/08, que altera o ECA para tipificar mais precisamente o crime de pornografia infantil e pedofilia na internet, o qual foi aprovado em tempo recorde (se tornando a Lei nº 11829/2008), coincidindo a sanção presidencial, em novembro de 2008, com a Conferência Internacional contra o Abuso Sexual de Criança e Adolescentes organizada pela End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), no Rio de Janeiro.
Os trabalhos da CPI envolvem: investigação das denúncias recebidas pelo site denunciar.org.br, mantido pela SaferNet; diligências policiais; solicitação de quebra de sigilos telefônicos; celebração de acordos entre a CPI, Ministérios Públicos, a SaferNet e empresas de telecomunicações e de cartão de crédito para identificar fornecedores e consumidores de pornografia infantil, tipificada como produção, disseminação ou posse de materiais desse gênero [13]. Em maio de 2009, a Polícia Federal coordenou a operação TURKO para eliminar redes de pedofilia no Orkut identificadas através do site denunciar.org.br. A operação cumpriu 92 mandados de busca e apreensão em 20 estados brasileiros. No seu curso, o senador Malta, o diretor da SaferNet, Thiago Tavares, e o procurador da República do MPF-SP Sergio Suiama tiveram grande visibilidade midiática (ver nota de rodapé n° 13).
A maioria dos atores ouvidos nesse estágio da pesquisa considera que essa seqüência de eventos, especialmente a CPI, favoreceu um consenso social e parlamentar sobre a necessidade urgente de punir crimes cibernéticos, não alcançado quando os temas centrais eram as perdas financeiras dos bancos ou pirataria. Esse deslocamento se refletiu, inclusive, nas várias versões da “Lei Azeredo”. As primeiras versões do texto faziam referência ao ECA e ao Código Penal no que tratava de pornografia infantil, mas, no texto final, um artigo especial foi incluído para tratar destes crimes especificamente. Contudo, essa dinâmica de barganha foi muito contraditória e nem todos os atores envolvidos na luta contra a pornografia infantil são favoráveis ao projeto tal como foi aprovado [14].
Consenso... ma non troppo
No início de 2009, as contestações da “Lei Azeredo” ficaram mais consistentes a partir de ações desenvolvidas pelos movimentos Software Livre e Cultura Digital, por ONGs engajadas na luta pelo direito à comunicação e organizações de direitos humanos, incluindo a SaferNet. Esses grupos criaram a campanha “Contra o AI-5 Digital”, evocando a memória nefasta do Decreto AI-5 (1968) que instaurou regras rigorosas de censura à imprensa durante a ditadura militar.
A mobilização começou como uma ação de ciberativismo, apresentando um abaixo-assinado contra a “Lei Azeredo” que reuniu 150.000 assinaturas e culminou como uma série de atos públicos em várias cidades brasileiras, o chamado “Mega Não”. O lema central do movimento foi o repúdio à censura e o apelo à liberdade de expressão. Enquanto isso, a “Lei Azeredo” voltou à Câmara dos Deputados, onde foi mais fácil se fazerem ouvir as vozes contrárias à proposta, e novos atores políticos entraram em cena. Em resumo, o processo de mobilização contra o AI-5 Digital teceu vinculações complexas entre a sociedade civil e o estado, que terminariam por alterar radicalmente os termos do debate. Três momentos foram especialmente relevantes nesse percurso.
Em junho de 2009, o CGI.br lançou um Decálogo de Princípios para guiar as operações e o funcionamento da internet no Brasil. A relevância do documento vem do peso político do CGI.br, mas também porque os Princípios deslocam o foco do campo da lei penal para o terreno dos direitos humanos [15]. Essa inflexão refletiu os argumentos do movimento contra o AI-5 Digital: por que tratar a regulação da internet numa perspectiva criminal, em lugar de pensar a questão como um tema de direitos humanos?.
Um segundo momento ocorreu no Fórum Internacional de Software Livre (Porto Alegre, julho/2009), quando o presidente Lula reagiu aos protestos contra a “Lei Azeredo”, afirmando ser radicalmente contra a censura e assumindo o compromisso político de conter o “AI-5 Digital”[16]. Em seguida, a Presidência da República atribuiria ao Depto. de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (MJ) a tarefa de buscar uma alternativa jurídico-legal para a “Lei Azeredo”.
Para tanto, a equipe do MJ estabeleceu uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro), instituição acadêmica reconhecida por seu trabalho sobre internet e propriedade intelectual, disto resultando o terceiro momento deste processo: o lançamento, em outubro de 2009, de uma consulta pública online para elaboração de um Marco Civil da Internet. Entretanto, a elaboração do Marco Civil não significa que a “Lei Azeredo” será arquivada, mas sim que sua tramitação fica suspensa até que o texto deste documento seja apresentado ao Congresso.
A consulta do Marco Civil: os primeiros debates
A consulta do Marco Civil da Internet foi online, disponibilizada no formato blog, sediado no site Cultura Digital, e foi concebida em duas etapas. A primeira, entre outubro e dezembro de 2009, que coincidiu com o processo final da Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), teve como objetivo debater as premissas jurídicas fundamentais da lei a ser elaborada. Na segunda etapa (prevista para começar no início de 2010), será apresentado, para comentários e emendas, um esboço de PL, baseado tanto na consulta como em legislações adotadas em outros países.
O texto preparado para a primeira etapa da consulta se inspirou na Constituição Federal, no Decálogo de Princípios do CGI.br, em conteúdos do abaixo-assinado contra a “Lei Azeredo”, e foi estruturado em três eixos temáticos: 1) direitos individuais e coletivos, 2) responsabilidade dos atores e 3) diretrizes governamentais. Nossa observação de pesquisa analisou a dinâmica geral do processo e, de maneira mais específica, os eixos 1 e 2 (privacidade, liberdade de expressão e direito de acesso; e não-discriminação de conteúdos/neutralidade).
No curso desses 45 dias em que a consulta ficou aberta, foram postados centenas de comentários no blog da consulta, tanto posicionamentos individuais quanto institucionais. A maior parte das pessoas participantes desta etapa já faz parte dos movimentos de Software Livre e/ou Cultura Digital. Um possível motivo da pouca participação de outros atores pode ser que a plataforma utilizada era pouco amigável, o que parece ter dificultado o engajamento de atrizes e atores mais externos aos círculos cibernéticos. E uma outra razão pode ter sido, ainda, a complexidade técnica que este debate apresenta.
Os comentários feitos em relação ao eixo 1 incluíam tanto críticas à ausência de regulação da internet, quanto posições totalmente contrárias à sua regulação, defendendo total liberdade e anonimato na rede. Também foram postadas mensagens de apoio ao Marco Civil e propostas de políticas públicas visando à conscientização das pessoas para não violarem a privacidade alheia.
Tanto na consulta online quanto nos debates off-line, o ponto mais polêmico do eixo 1 foi a questão da guarda dos logs. Segundo o texto da consulta, a lei deverá determinar precisamente: 1) os casos em que registro e guarda serão permitidos; 2) as condições de segurança para sua guarda e; 3) sob que condições poderão se dar os casos de requisição de dados por ordem judicial, violando a privacidade de usuários/as. Muitos comentários criticaram a falta de clareza do texto com relação ao tipo de log que seria atingido por esta regulação. Houve também posicionamentos contrários ao armazenamento de logs, posição expressa por alguns/as ativistas que se opõem ao Marco Civil, pois consideram que a internet é um espaço de liberdade e que qualquer forma de regulação poderá comprometer a continuidade do desenvolvimento tecnológico da rede. Para Sergio Amadeu [17], por exemplo, em lugar de pensar num marco civil de regulação, deveriam ser adotadas leis que assegurem a navegação sem vigilância e os direitos das/dos cidadãs/os.
Outras vozes, especialmente representantes dos provedores, defendem a proposta do Marco Civil bem como a guarda de logs, argumentando que estes não podem ser responsabilizados pelos atos dos/as usuários/as que contratam seus serviços. Há ainda especialistas e ativistas que consideram que a discussão sobre a guarda de logs não pode ser feita em termos binários: sou contra ou a favor, simplesmente porque, na prática, os logs já são armazenados e o que se faz necessário é debater as condições e finalidades da guarda dos logs. Segundo Carlos Afonso [18] a solicitação de logs por ordem judicial deve vir acompanhada da exigência de uma auditoria sobre como tais dados foram capturados, guardados e registrados.
Quanto ao eixo 2, chamam atenção, especialmente, numerosos argumentos levantados em defesa da neutralidade plena da internet, ou seja, de que o estado e os provedores devem se eximir completamente de monitorar o que fazem usuárias/os na internet, pois essas ações estão inscritas no âmbito do privado. Um dos/as participantes da consulta ilustrou sua posição dizendo que, se pais e mães estiverem preocupados/as com a pornografia infantil ou outros riscos a que suas crianças estejam expostas, podem instalar filtros de segurança, mas não solicitar a intervenção do estado.
A despeito das muitas controvérsias observadas no debate sobre regulação da internet na consulta e fora dela, durante a CONFECOM, aprovou-se, sem maiores dificuldades, a proposta de criação do Marco Civil da Internet. Tal “facilidade” contrastava com os impasses insolúveis observados em outros debates da CONFECOM. No entanto, a eventual aprovação do projeto de lei pode nos provar que o caminho não é tão simples e fácil.
Para finalizar
A interseção complexa e contraditória entre a “Lei Azeredo” e as iniciativas de combate à pornografia infantil nos diz que sexualidade e gênero são elementos inequívocos da política real e do debate sobre regulação da internet no Brasil. Entretanto, essa centralidade não se transporta automática e plenamente para os discursos e pautas das atrizes e atores diretamente envolvidos na política sexual, por um lado, ou na política digital, por outro.
As opiniões e processos registrados até agora como parte deste estudo de caso, As pessoas confirmam a nossa hipótese inicial de pesquisa de que é muito escasso o conhecimento e interesse sobre regulação da internet entre feministas e ativistas LGBT, mesmo quando essas comunidades estão envolvidas em debates sobre mídia e política. Ou seja, não existe entre esses grupos clareza quanto à centralidade assumida por gênero e sexualidade nos debates em curso. Meses antes, imaginávamos que a mobilização em torno da CONFECOM e, posteriormente, a proposta do Marco Civil poderiam capturar o interesse de feministas e ativistas LGBT para o debate sobre regulação da internet [19]. Contudo, na CONFECOM, não havia nem feministas, nem ativistas LGBT no grupo de trabalho que tratou especificamente da internet e tampouco participaram na primeira etapa da consulta sobre o Marco Civil.
Não dispomos ainda de dados suficientes para analisar solidamente o que explica essa “falta de interesse” [20], mas é possível levantar algumas hipóteses preliminares. A primeira delas é que os termos do debate sobre regulação da internet são excessivamente tecnológicos e complexos, ao passo que ativistas feministas e LGBT não detêm conhecimento técnico suficiente para se engajarem produtivamente em questões tais como retenção de dados de usuários/as. Isso não chega a surpreender, pois, segundo um especialista entrevistado, mesmo ativistas digitais, muitas vezes não têm clareza do que seja a diferença entre manutenção de um log de usuário por um provedor e uso indevido do log (por exemplo, para usos comerciais não autorizados).
Também parece existir uma percepção equivocada entre feministas e ativistas LGBT de que o uso da internet, no Brasil, permanece restrito às camadas mais ricas da população, enquanto rádio e televisão atingem, de fato, as massas, sendo, portanto, prioritários como objeto de intervenção política. Nesse aspecto, chama atenção a percepção limitada desses grupos sobre os significados e potenciais da convergência das tecnologias de comunicação, mesmo quando está presente na vida cotidiana (jornais, rádios e TVs digitais).
Finalmente, a internet pode continuar a ser, em grande medida, percebida por feministas e ativistas LGBT como mero instrumento e não como um território que, no mais das vezes, duplica o mundo off-line, em termos das compenetrações e contradições entre público e privado, corporal e tecnológico, e onde estamos inexoravelmente imersas/os em teias complexas de disciplinamento, contestação, liberação. De modo geral, grupos feministas e LGBT vêem a internet basicamente como uma ferramenta de comunicação e predominantemente se envolvem com suas camadas superficiais, sem se aprofundar nas complexidades técnicas e políticas que estão em jogo nos níveis mais profundos.
Já do lado dos/as ativistas digitais, a questão do combate à pedofilia é, em geral, mencionada como um elemento crucial do debate atual sobre regulação, que lançou mais lenha nas fogueiras da criminalização e do vigilantismo. Contudo, questões de gênero e sexualidade não apareceram de maneira explícita nos discursos propagados durante os debates sobre liberdade de expressão que caracterizaram a campanha contra o AI-5 Digital. Por outro lado, a análise das contribuições feitas ao eixo 2 da consulta indica que as pessoas envolvidas com ativismo digital têm grande apreço pelo direito de privacidade e intimidade e repudiam intervenções estatais ou privadas nesse terreno. Ao nosso ver, mesmo não havendo interações muito fortes entre ciberativistas e o mundo das políticas sexuais, esse é um sinal bastante auspicioso do ponto de vista de uma perspectiva plural dos direitos reprodutivos e sexuais.
Finalmente, consideramos que, do ponto de vista da agenda de igualdade de gênero e direitos sexuais, a proposta do Marco Civil é potencialmente virtuosa, pois vai no sentido contrário de uma tendência dominante na cultura política brasileira que é fazer da lei penal instrumento “pedagógico”, o que, além de ser uma prática bastante comum entre setores conservadores, está também presente no chamado campo progressista. Como vimos, o movimento LGBT hoje em dia defende arduamente a aprovação de uma lei para criminalizar a homofobia (PL 122/2006) e, em 2005, foi apresentado à Câmara dos Deputados o PL 6124, que criminaliza a discriminação das pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Ao nosso ver, um debate mais amplo sobre o Marco Civil da Internet pode contribuir, portanto, para disseminar na sociedade, inclusive entre feministas e ativistas LGBT, a perspectiva defendida por pensadores/as do campo do direito, segundo a qual questões de sexualidade – exceto nos casos de crimes claramente tipificados – não deveriam ser reguladas pela lei penal, mas sim pelos princípios constitucionais. Tal adesão às premissas de respeito à privacidade e liberdade de expressão poderá, inclusive, prevenir, no futuro, o deslocamento do pânico moral instalado a partir do combate à pornografia infantil para outros campos de interseção entre internet, gênero e sexualidade.
Notas
[1] Agradecemos as contribuições específicas de Bruno Zilli (internet e sexualidade) e Magaly Pazello (o caso Google e a CPI da Pedofilia), bem como o conjunto da equipe EroTICs Brasil.
[2] Um outro evento importante teve lugar no fim de 2009, precedido por um longo e complexo processo de preparação: a Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), sob o título “meios para a construção de direitos na era digital”.
[3] As fontes empíricas que apóiam essa análise são: a observação direta e indireta dos debates aqui mencionados (listas de discussão, imprensa escrita e participação em eventos relevantes) e entrevistas com atrizes e atores qualificados: Carlos Afonso e Graciela Selaimen (NUPEF), Thiago Tavares (SaferNet), Dr. Pedro Abramovay e sua equipe (Depto. de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça), e Priscila Schreiner (Ministério Público Federal de São Paulo).
[4] IBOPE, um dos principais institutos de opinião pública no Brasil.
[5] Em 2008, cerca de 50% dos perfis registrados no Orkut em todo o mundo pertenciam ao Brasil (cerca de 23 milhões de pessoas).
[6] A Constituição Federal de 1988 garante equidade, privacidade, liberdade de expressão e não-discriminação como princípios universais, ao mesmo tempo em que legislações locais e jurisprudências representam um caso forte em oposição à discriminação contra LGBTs. Desde 1995, o Governo Federal instalou órgãos nacionais para a proteção dos direitos humanos: a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (desde 2003) e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos (desde 2004), ambas diretamente ligadas à Presidência da República, além do Programa Brasil sem Homofobia.
[7] Essa dimensão será investigada na etapa de pesquisa que agora se inicia, a partir de duas estratégias complementares: uma pesquisa de opinião com ativistas LGBT sobre usos da internet e percepções sobre regulação da rede (em andamento); e observação etnográfica e/ou análise de três dinâmicas relevantes identificadas no mundo virtual brasileiro – a) observação/diálogo com participantes de uma comunidade voltada para lésbicas, que tem regras de funcionamento bastante “rigorosas”; b) observação/análise do processo de “sanitizacão sexual” do Orkut que parece ter ocorrido após o acordo de 2008 firmado entre a Google e o Ministério Público Federal para coibição, investigação e punição da pedofilia/pornografia infantil; c) análise de sites e comunidades que tratam de aborto – grupos anti-aborcionistas, grupos a favor da legalização, comunidades que compartilham experiência vividas, sites que comercializam Misoprostol (medicamento abortivo), assim como as medidas governamentais adotadas para coibí-los .
[8] PL: abreviação para Projeto de Lei. Pode ser originário da Câmara dos Deputados (PLC, Projeto de Lei da Câmara, quando é apreciado no Senado), ou do Senado (PLS, quando é apreciado na Câmara). As matérias sempre vão de uma casa à outra, para revisão.
[9] A agenda de Direitos das Crianças vem se consolidando no Brasil desde 1990, quando foi aprovado o ECA, e nela se dá grande ênfase às iniciativas de prevenção e punição da prostituição infantil e violência sexual contra crianças e adolescentes.
[10] O Ministério Público Federal foi criado pela Constituição de 1988, combinando as funções de um escritório de efensoria pública (para crimes federais) com um mandato mais amplo, que inclui controle constitucional (proteção aos direitos fundamentais) e proteção dos chamados direitos difusos, entre os quais os direitos de crianças e adolescentes, meio ambiente e direitos de consumidores/as. O MPF também tem função investigativa e, nos últimos anos, tem participado de uma ampla gama de operações (corrupção policial, drogas, direito à saúde, direitos das crianças, meio-ambiente, etc.).
[11] TAC é um instrumento tipicamente utilizado pelo MPF em casos criminais e civis em que atores públicos e/ou privados diversos estejam envolvidos. A adesão a um TAC implica em avaliações periódicas sobre sua implementação pelas várias partes envolvidas. Não-complacência pode levar a sanções civis e criminais.
[12] Dra. Priscilla, do MPF-SP, explicou que esses são os dois tipos de crimes de que trata o TAC, porque são os tipificados em tratados internacionais assinados pelo Brasil.
[13] Em uma entrevista concedida logo após a realização da operação TURKO e disponível no site da Polícia Federal, um repórter perguntou ao representante do MPF-SP se seria considerado “posse” o material pornográfico encontrado na pasta de “spam” do correio eletrônico de alguém e a resposta foi que sim, se enquadraria na categoria “posse”.
[14] Enquanto o debate sobre crimes cibernéticos continua no Congresso Nacional, legislações específicas estaduais e municipais têm sido adotadas para controlar telecentros e, especialmente, lan houses, as quais exigem a identificação de todos/as os /as usuários/as e a guarda de dados de acesso. Outro exemplo de vigilantismo estatal na internet que tem efeitos sobre gênero e sexualidade pode ser identificado no caso do aborto. A resolução 911 de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério (Anvisa), que proibiu a propaganda do Misoprostol (comercialmente chamado de Cytotec) na internet, foi escrita num tom francamente moralista. Essa proibição, além de ineficaz – pois os sites proibidos estão sediados em outros países e se deslocam o tempo todo –, restringe o acesso das mulheres a um produto que, sabidamente, reduz os riscos do aborto feito em condições clandestinas.
[15] Disponível em http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucao2009-003.htm, consultado em 23/01/2010. É interessante adicionar que, segundo algumas pessoas entrevistadas, não é exatamente fácil para o CGI.br - dada sua natureza e composição mista (governo, grupos ativistas e setor privado) – chegar a consensos sobre aspectos políticos e de relativos a conteúdo no campo da regulação. Isso torna o esforço de produção do Decálogo ainda mais significativo.
[16] Apesar dessa afirmação, é importante ressaltar que nos últimos anos tanto o presidente quanto outros membros do poder executivo federal têm se queixado abertamente das críticas feitas pela imprensa ou dos efeitos negativos da mídia na formação de opinião da população.
[17] Ativista do movimento software livre e professor universitário. Sua posição constante neste artigo foi expressa em debates públicos sobre o “Marco Civil da Internet”.
[18] Membro do CGI.br e coordenador do Instituto NUPEF (Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação).
[19] Na verdade, nós tratamos de disseminar a informação sobre a consulta entre ativistas feministas e LGBT em diversos fóruns e listas de e-mail.
[20] Esse aspecto será investigado mais de perto nas próximas etapas da pesquisa.
- 7133 views






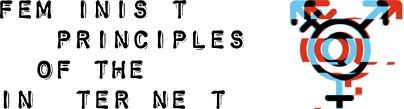

Add new comment